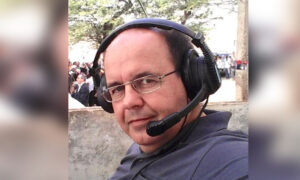Por: João Serra*
Inspirado em São Francisco de Assis – cujo nome adotou –, o Papa Francisco posicionou-se, ao longo dos seus 12 anos de pontificado, como defensor dos pobres e dos marginalizados. Também por causa disso, ele tornou-se um incisivo visionário económico. Ao insistir num padrão moral – padrão esse distinto dos modelos, mercados e métricas que dominam a economia – Francisco desafiou as premissas da ortodoxia económica predominante na atualidade.
Para o Papa Francisco, estamos perante “uma economia de exclusão e desigualdade, uma economia sem alma, que resulta de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira, negando, assim, aos Estados o direito de controlo, quando estes têm a responsabilidade de garantir o bem-comum” – lê-se no livro “O Pastor: Desafios, razões e reflexões de Francisco sobre o seu pontificado”, editado há cerca de dois anos.
E, ao criticar a “fé neoliberal”, que supõe que o mercado, por si só, resolva todos os problemas, ele afirmou: “Não podemos confiar mais nas forças cegas e na mão invisível do mercado.”
Na verdade, Francisco redefiniu radicalmente o olhar sobre a economia, sublinhando a necessidade de lhe dar alma e de a colocar ao serviço da dignidade humana e do bem-comum. Em “Evangelii Gaudium” (“A Alegria do Evangelho”, 2013), advertiu que a busca acrítica da rentabilidade – que reduz empregos e exclui os mais vulneráveis – tornou-se num “novo veneno” para a sociedade. “A economia que mata, que exclui, que polui, que gera guerra não é economia: outros chamam-lhe economia, mas ela é apenas um vazio, uma ausência”, sublinhou. Essa retórica forte evidencia o enquadramento moral que o Papa Francisco atribuiu à economia: não basta o crescimento económico; é preciso alcançar, com ele, uma vida digna para todos, através de políticas deliberadas de redistribuição e solidariedade. Dito de outro modo, o crescimento económico com equidade exige medidas específicas de inclusão (trabalho digno, educação, saúde) e não o simples “laissez-faire”, para que a economia seja inspirada pela compaixão e pela justiça.
A proposta do Papa Francisco para uma economia com alma é inseparável da Doutrina Social Cristã (DSC) da Igreja Católica, que, há mais de um século, defende uma economia centrada no ser humano. Segundo essa doutrina, a pobreza não se reduz à mera falta de rendimento: trata-se de “privação de liberdades básicas” e de obstáculos ao desenvolvimento integral das pessoas.
A DSC não pretende impor um credo religioso, mas recordar princípios universais que deveriam orientar qualquer política económica: cada indivíduo possui uma dignidade inalienável, o trabalho tem um valor intrínseco que vai para além da mera produtividade, e a solidariedade não é uma concessão voluntária, mas uma obrigação ética. Esse corpo de pensamento nasceu para advertir contra os excessos de um capitalismo desumano – exploração laboral, concentração de poder económico e abandono dos mais frágeis –, mas também para reconhecer a importância da iniciativa privada e da liberdade de mercado, desde que enquadradas num ambiente regulatório que garanta a todos condições mínimas de justiça social.
Nessa linha de pensamento, Francisco não defendeu a rejeição total do capitalismo, ao contrário de muitos críticos deste modelo de sociedade. O seu objetivo foi apelar a um repensar não só das políticas económicas, mas também das prioridades que as moldam, desafiando-nos a lembrar que cada escolha económica implica uma opção moral e que podemos perfeitamente ter uma economia moderna, competitiva e inovadora, sem abdicar da justiça social, do respeito pela dignidade humana e da preservação do nosso planeta.
Por outro lado, a crítica do Papa Francisco de que é preciso devolver à economia os seus alicerces na filosofia moral vai ao encontro de uma tradição humanista com raízes na história do pensamento económico. A título de exemplo, o conceito de pobreza de Francisco coincide com o de Amartya Sen, Prémio Nobel de Economia de 1998, que define a pobreza como a falta de capacidades fundamentais e não apenas baixos rendimentos. Tal como a Igreja alerta, Sen lembra que um indigente é alguém sem meios para satisfazer necessidades básicas ou para moldar racionalmente o próprio futuro.
De igual modo, Joseph Stiglitz, também laureado com o Prémio Nobel de Economia em 2001, aponta as limitações do PIB e da economia neoclássica em traduzir o verdadeiro progresso social. Segundo Stiglitz, “o PIB é útil, mas não reflete o que os cidadãos comuns vivenciam; não reflete a situação de insegurança (económica e física), que é parte importante do bem-estar”. Ou seja, os padrões puramente quantitativos ignoram a distribuição equitativa e a qualidade de vida das pessoas. Stiglitz sublinha ainda que os lucros elevados de poucos podem não se traduzir em melhor saúde, educação ou segurança para a maioria.
Até pensadores clássicos ganham nova leitura com Francisco, que desafia a interpretação literal de Adam Smith ao rejeitar a fé cega na “mão invisível” do mercado, embora o próprio Smith já defendesse que a vida económica deve ser fundamentada na simpatia, na justiça e em normas de confiança cívica (cf. “A Teoria dos Sentimentos Morais”, 1759).
Em suma, Sen e Stiglitz reforçam convergências com a DSC e com o Papa: a economia de mercado deve ser moldada por liberdade com responsabilidade, corrigida por políticas públicas que promovam justiça social e crescimento sustentável.
O Papa Francisco defendeu uma visão de “economia com alma” que coloca a pessoa – sobretudo os mais pobres e excluídos – no centro das decisões económicas, em vez do mero acúmulo de riqueza. Para ele, é essencial “reencantar” a economia, resgatando-lhe o caráter humano e ético, superando a idolatria do dinheiro, que chegou a designar como o “esterco do diabo”.
E, num período em que os paradigmas neoclássicos se mostram progressivamente incapazes de interpretar e conter as crises que assolam a humanidade – desde a desigualdade dilacerante e o desastre climático até à volatilidade política e à expansão do populismo –, essa mensagem de Francisco surge com uma urgência ímpar. Ela incide diretamente nas lacunas espirituais que corroem o núcleo das nossas economias em declínio.
Apesar de não ter apresentado um modelo económico alternativo, assente em fórmulas complexas, folhas de cálculo ou tabelas de regressão – um jargão económico que tende a afastar o cidadão comum –, o Papa Francisco propôs algo muito mais intuitivo e acessível: a imaginação moral.
E há algo ainda mais notável: Francisco não posicionou a sua voz contra a economia académica, mas, antes, a favor da sua sombra protetora, lembrando aos especialistas o princípio basilar que parecem ter esquecido – o compromisso com o bem-comum. É um convite aos economistas para que voltem o olhar ao verdadeiro propósito da sua ciência. Se uma instituição milenar, com dois mil anos de história, como a Igreja Católica, ainda se pode reinventar, por que não esperar o mesmo de um consenso teórico que só subsistiu durante algumas décadas?
Praia, 17 de maio de 2025
*Doutorado em Economia