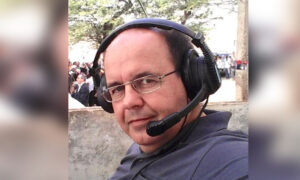Por: João Serra*
Não obstante as reservas que se impõem quanto à fiabilidade dos dados macroeconómicos e sociais oficiais – por vezes “martelados” e “atamancados” –, o certo é que Cabo Verde evidenciou, nos últimos dois anos (2023 e 2024), taxas de crescimento económico relativamente robustas, em torno de 6,33% ao ano, em contraste com a média de 3,33% registada entre 2016 e 2024. Se estes valores se confirmarem – na medida em que se tratam de dados provisórios –, tal crescimento revela nuances importantes quando analisamos a sua repercussão no tecido social: a criação de emprego (sobretudo entre os jovens), a redução da pobreza e a evolução do coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na distribuição dos rendimentos. Essa discrepância entre números e experiências quotidianas convida-nos a questionar até que ponto o crescimento quantitativo alimenta verdadeiramente o bem-estar coletivo.
A história da medição do crescimento económico remonta aos anos 30 do século XX, quando o economista Simon Kuznets, num período de profunda crise nos EUA, procurava identificar as atividades que realmente contribuíam para o bem-estar económico. Inicialmente, a finalidade era tangível: avaliar o nível de produção num cenário de recuperação. Contudo, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e o posterior período de reconstrução, o foco converteu-se na soma de bens e serviços produzidos num ano – o que hoje conhecemos como Produto Interno Bruto (PIB).
Apesar de Simon Kuznets, laureado com o Prémio Nobel da Economia em 1971, ter advertido sobre a necessidade de distinguir quantidade e qualidade de crescimento, o PIB acabou por assumir uma posição central e incontornável, servindo de critério quase único na avaliação do sucesso económico de um país, o que ignora outras dimensões fundamentais do progresso social. Joseph Stiglitz, também laureado com o Prémio Nobel da Economia em 2001, apelida este estatuto quase divino e divorciado do seu propósito original de “fetichismo do PIB”.
Hoje, parece consensual que o PIB se revela um indicador limitado e, por vezes, profundamente enganador quando utilizado como medida exclusiva do sucesso ou do bem-estar de uma nação. A “ditadura do PIB”, como lhe chamam alguns críticos, ignora as crescentes desigualdades sociais que frequentemente acompanham o crescimento económico. Além disso, a ênfase exclusiva no crescimento preocupa-se tão só com o quantitativo, relegando para segundo plano dimensões essenciais do progresso, tais como a educação, a saúde, a coesão social e a participação cívica. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que incorpora esperança de vida, literacia e rendimento, oferece uma perspetiva mais abrangente do bem-estar, mas continua a ser secundarizado em favor do PIB.
Em Cabo Verde, ainda que o PIB e o rendimento per capita tenham crescido, muitos agregados familiares continuam à margem dos benefícios: em termos líquidos, quase não foram criados postos de trabalho, o desemprego juvenil persiste em níveis elevados, a precariedade laboral agrava-se, os índices de pobreza absoluta não diminuem substancialmente e Cabo Verde vem perdendo posições no IDH, passando de 123.ª em 2016 para 135.ª posição em 2025 (que reporta dados de 2023). Por outro lado, em geral, o custo de vida disparou e o poder de compra das famílias erodiu-se significativamente, sem que este tivesse sido integralmente reposto e, muito menos, aumentado. Isto traduz-se numa sociedade em que uma minoria recolhe a maior parte dos rendimentos gerados, enquanto a larga maioria permanece sem acesso a oportunidades reais de mobilidade social e enfrenta dificuldades persistentes no acesso a serviços básicos, educação de qualidade e emprego digno. O crescimento, neste contexto, assemelha-se a uma maré alta que eleva os barcos mais robustos, mas deixa os mais frágeis à mercê das ondas.
Na verdade, se, por um lado, determinados setores beneficiaram desta dinâmica económica, por outro lado, o mercado de trabalho, especialmente na sua vertente destinada aos jovens, revelou limitações que se traduzem numa taxa de desemprego juvenil persistentemente elevada, em comparação com a média nacional. De facto, segundo os dados mais recentes do INE, em 2024 a taxa de desemprego geral foi estimada em 8,0%, enquanto a dos 15-24 anos se fixou em 20,1%. A situação agrava-se ainda mais quando se considera que cerca de 41.158 jovens entre os 15 e os 35 anos (23,8% do total nesta faixa etária) se encontravam sem emprego e fora de qualquer estabelecimento de ensino ou formação.
No que se refere à pobreza absoluta, os últimos dados do INE relativos ao primeiro e ao segundo trimestre de 2023 – baseados no IV IDRF realizado em 2022 – não são de todo fiáveis, na medida em que a instituição continua, uma década depois, a usar praticamente os mesmos limites monetários definidos em 2015 para considerar alguém pobre, ignorando a inflação média anual acumulada (IMA) de 2015 a 2024, superior a 17,5%, e, sobretudo, a IMA acumulada do índice de produtos alimentares não transformados e de bebidas não alcoólicas, que ultrapassa os 27%.
Em relação à pobreza extrema, cujo limiar foi estimado pelo INE em 2,15 dólares (PPC de 2017) diários por pessoa, segundo o critério internacional do Banco Mundial (BM) de 2017, é o próprio presidente do INE quem afirma, no programa “Ponto por Ponto” da TCV, que –pasme-se –, por diretiva do BM, esse valor será atualizado para 3,15 dólares, o que reforça as críticas de “martelamento” e “atamancamento” dos dados face a sua real dimensão.
O último coeficiente de Gini, oficialmente conhecido, situava-se em 0,42 em 2015, de acordo com o III IDRF, apontando, assim, para uma desigualdade considerável. Os dados do III IDRF, realizado em 2015, revelaram ainda que os 20% mais ricos detinham 44,7% do rendimento nacional, ao passo que os 20% mais pobres controlavam apenas 6,4%. E tudo indica que o coeficiente de desigualdade tenha agravado desde 2015. Por exemplo, o site World Economics reportou um coeficiente de Gini, em 2019, de 50,9 para Cabo Verde e de 32 para as Ilhas Maurícias, um “peer country”. A persistência de um nível elevado de desigualdade na distribuição dos rendimentos evidencia que a riqueza gerada pelo crescimento do PIB não tem sido distribuída de forma equitativa, reforçando disparidades históricas de exclusão e injustiça.
O exposto sugere que, apesar de um panorama global positivo, o crescimento económico não melhorou, de forma relativamente homogénea, as condições de vida da maioria dos cabo-verdianos, criando um cenário em que os dados macroeconómicos se confrontam com a realidade quotidiana das famílias que passam por enormes dificuldades, e dos jovens que procuram uma saída para a precariedade laboral e os baixos salários, através da emigração em massa para o estrangeiro.
Kuznets, se vivo, diria ao Governo de Cabo Verde e ao partido que o sustenta, bem como aos seus defensores: “Parem de idolatrar números. Comecem a medir vidas. Encarem o crescimento económico como um meio, e não um fim em si mesmo”.
Praia, 19 de julho de 2025
*Doutorado em Economia