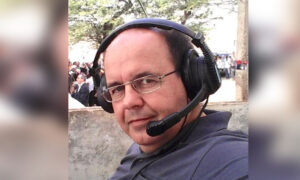Por: Karina de Fátima Gomes*
Entre as páginas amareladas por décadas de poeira e as folhas encharcadas por chuvas recentes, repousa a história de Cabo Verde. Um país insular que aprendeu a ler a vida através do clima: ora no silêncio rachado da terra seca, ora no estrondo impiedoso das águas. A literatura guardou cada uma dessas paisagens extremas, transformando tragédia em memória, e memória em alerta.
Na década de 1940, a seca de 1947–1948 foi uma das mais severas já registradas, dizimando colheitas e ceifando cerca de 45.000 vidas. São Nicolau perdeu 28% da população; o Fogo, 31%; Santiago, 65%. Uma tragédia que forçou ondas de emigração e deixou cicatrizes duradouras.
Esses acontecimentos não ficaram apenas nas estatísticas: encontraram na literatura uma forma de eternidade. Chiquinho, de Baltasar Lopes da Silva, encerra-se com um retrato pungente da fome e da diáspora, onde a partida deixa de ser opção e se torna destino. Em Flagelados do Vento Leste, Manuel Lopes transforma a seca em personagem central, um antagonista silencioso que corrói vidas e esperanças. Já Hora di Bai, de Manuel Ferreira, mergulha no ato de partir como única forma de sobreviver…narrativa de perda e, paradoxalmente, de resistência. Essas obras não são apenas testemunhos artísticos: são arquivos emocionais de um povo, capazes de traduzir em palavras o que a estatística jamais alcança.
Atualmente, a tragédia assume outra face. A tempestade provocada pela Depressão Tropical Erin gerou inundações históricas em São Vicente, destruindo casas, arrastando ruas, ceifando vidas (entre elas, de quatro crianças) e deixando desaparecidos. O clima, outrora sinônimo de ausência de água, agora se apresenta como excesso devastador. A literatura que um dia nos ensinou a ler o silêncio das terras áridas talvez precise, agora, nos ensinar a interpretar o rugido das águas.
Esse dilema não é exclusivo de Cabo Verde. Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) enfrentam o mesmo paradoxo: vulneráveis tanto à escassez quanto ao excesso, embora pouco contribuam para as causas globais da crise climática. O aumento da temperatura média intensifica fenômenos extremos e reescreve, a cada temporada, o enredo da sobrevivência.
Em arquipélagos como o nosso, a geografia fragmentada, a dependência de importações e a limitação de recursos hídricos tornam cada evento extremo um capítulo caro e doloroso. É como se cada ilha fosse uma página isolada: quando o desastre atinge uma, toda a narrativa nacional sofre uma ruptura.
A literatura, no entanto, sempre esteve um passo à frente, oferecendo não só memória, mas também um mapa simbólico para atravessar tempos incertos. Ler Flagelados do Vento Leste hoje é perceber que a aridez não é apenas física, mas também política e social; revisitar Chiquinho é reconhecer que a diáspora ainda molda identidades e estratégias de sobrevivência; retornar a Hora di Bai é confrontar a persistência da partida como solução, mesmo em pleno século XXI.
Se a literatura nos deu memória e consciência das secas, cabe a nós escrever (nas políticas públicas, na ciência e na ação coletiva) uma nova narrativa: a da adaptação e da resiliência. Integrar saberes tradicionais e inovações tecnológicas, restaurar ecossistemas, investir em infraestrutura resiliente e garantir justiça climática são capítulos urgentes.
Em Cabo Verde, a literatura nos lembra que o clima não é pano de fundo: é protagonista da vida e da morte. Ignorar sua força é arriscar-se a transformar tragédias do passado em repetições inevitáveis.
Que possamos ouvir a voz das nossas histórias antes que a natureza volte a gritar, e que saibamos responder não apenas com memória, mas com ação. Afinal, como escreveu Manuel Lopes, “o vento leste não sopra só na terra: sopra também dentro das pessoas”.