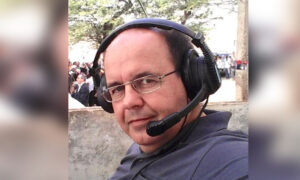Por: Jorge Lopes*
Um olhar técnico e sereno sobre as causas, impactos e lições de uma crise que expôs a vulnerabilidade do sistema energético nacional.
A crise energética que atingiu Cabo Verde em 2024 e 2025, particularmente na ilha de Santiago, revelou fragilidades estruturais acumuladas no sistema elétrico nacional. Mais do que um episódio técnico, foi um sinal de alerta que obriga a repensar o modelo de planeamento, manutenção e regulação do setor energético.
- A crise que expôs o sistema
O que Cabo Verde viveu em 2024 e 2025, particularmente na ilha de Santiago, foi uma prova de esforço para o sistema elétrico nacional. Durante meses, interrupções prolongadas colocaram em causa a normalidade da vida económica e social, forçando famílias e empresas a enfrentar um nível de vulnerabilidade raramente observado desde a última reabilitação do parque térmico nacional, que fixou a capacidade instalada no patamar em que ainda hoje se encontra.
O verão de 2025 representou o ponto mais crítico desse processo, evidenciando fragilidades acumuladas e uma ausência de planeamento rigoroso de manutenção preventiva.
As pequenas reparações entretanto realizadas permitiram melhorias pontuais no fornecimento, mas não resolveram as causas estruturais do problema, nem restituíram fiabilidade a um conjunto de equipamentos que operam há muito acima das condições ideais previstas e sem o enquadramento de manutenção necessário à preservação do seu desempenho ao longo da vida útil. Trata-se, portanto, de um alívio temporário num sistema que continua vulnerável, dependente e sujeito a novos riscos de colapso.
Esta crise deve ser entendida como um alerta sistémico — um momento de exposição das fragilidades técnicas e de gestão do setor energético cabo-verdiano, e uma oportunidade para corrigir deficiências que se tornaram crónicas.
- Causas profundas – Entre a técnica e a gestão
A crise energética não teve origem num único fator, mas na convergência de fragilidades técnicas, institucionais e operacionais.
O parque de produção envelhecido, a ausência de reservas de redundância, atrasos na manutenção e uma coordenação insuficiente entre entidades do setor criaram as condições para o colapso.
A reestruturação societária de 2024, que deu origem à EPEC, EDEC e ONSEC, teve como intenção modernizar a gestão e aumentar a eficiência.
Contudo, o processo revelou carências de planeamento e de clareza nos papéis institucionais, gerando dificuldades de coordenação e diluição de responsabilidades.
O regulador — a ARME — tem enfrentado limitações de meios e de autonomia, o que reduziu a sua capacidade de fiscalização e de acompanhamento em tempo real das falhas de serviço.
Mais do que procurar culpados, importa reconhecer que o sistema energético cabo-verdiano precisa de uma revisão estrutural e integrada, que una planeamento técnico, sustentabilidade económica e coordenação institucional.
- Ciclo de vida dos equipamentos – Entre a norma e a realidade
A discussão em torno da “vida útil” dos equipamentos das centrais termoelétricas tem gerado alguma confusão conceptual e, por vezes, decisões de planeamento pouco ajustadas.
Em termos nominais, ou seja, considerando condições ideais de operação e manutenção, o ciclo de vida de um grupo gerador (motor primário + gerador) situase geralmente entre 20 e 30 anos.
Essa referência, contudo, não traduz a realidade operacional cabo-verdiana.
As centrais de base — que, como as de Santiago e São Vicente, funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana — sofrem um desgaste contínuo muito superior ao previsto nas especificações de fábrica. Sem um programa rigoroso de manutenção preventiva e preditiva, com inspeções periódicas, análises de óleo, substituição programada de componentes críticos e calibração de sistemas, a vida útil real pode reduzir-se para menos de metade da nominal.
Outros fatores, como a qualidade do combustível, o tipo de operação, a frequência das grandes revisões (major overhauls) e a disponibilidade de peças originais, influenciam decisivamente a longevidade do equipamento.
Centrais que operam com fuel óleo, por exemplo, estão expostas a maior corrosão e acumulação de resíduos, exigindo intervalos de revisão mais curtos.
Assim, tomar a vida útil nominal como base exclusiva de planeamento é um erro técnico com implicações sérias. Pode induzir uma falsa sensação de segurança, adiar investimentos necessários e comprometer a previsibilidade do sistema.
Em contextos como o caboverdiano, o planeamento da manutenção deve ter em conta as horas efetivas de funcionamento e o estado de conservação dos equipamentos, e não apenas a sua idade cronológica. Planeamento energético não é uma questão de calendário — é uma questão de engenharia e de gestão do risco.
- A dimensão económica – A fatura da ineficiência
O impacto económico da crise é significativo e quantificável.
Com base em dados oficiais da ELECTRA e da ARME, estima-se que, só no primeiro semestre de 2024, as interrupções no fornecimento elétrico tenham provocado perdas diretas e indiretas superiores a 10,5 mil milhões de escudos cabo-verdianos, equivalentes a 1,2% do PIB nacional.
A metodologia aplicada segue padrões internacionais definidos por organismos como o Banco Mundial, a Agência Internacional de Energia (AIE) e a Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA).
O cálculo considera as perdas diretas das empresas energéticas, as perdas indiretas na produção e nos serviços, e os efeitos induzidos sobre o emprego e o rendimento das famílias.
Em linguagem simples: cada hora sem energia representa produção perdida, custos acrescidos e rendimentos comprometidos.
Esses efeitos somam-se e afetam todos os setores — do pequeno comércio à indústria, do turismo à administração pública.
Trata-se, portanto, de uma questão macroeconómica e de competitividade nacional.
- Impactos sociais e ambientais – O outro lado da crise
O impacto social e ambiental da crise é menos visível, mas não menos importante.
A proliferação de pequenos geradores a gasóleo, utilizada como solução de emergência, aumentou os custos das famílias e das empresas, degradou a qualidade do ar e elevou o ruído urbano.
Esse fenómeno representa um retrocesso ambiental e uma pressão acrescida sobre a saúde pública, sobretudo em contextos urbanos densos como a cidade da Praia.
Para além disso, a desigualdade energética tornou-se evidente: enquanto alguns consumidores puderam adquirir geradores, outros permaneceram dependentes da irregularidade do sistema.
Esta realidade deve ser entendida como alerta social e ambiental — uma chamada à ação para que as futuras soluções integrem equidade e sustentabilidade.
- Caminhos de reforma – Lições e oportunidades
O episódio vivido deve ser encarado como um ponto de viragem para o setor energético cabo-verdiano.
O país dispõe, desde 2018, de um Plano Diretor do Setor Elétrico (PDSE 2018–2040), um documento estruturante que traçou metas ambiciosas de modernização, integração das renováveis e redução das perdas.
O plano foi tecnicamente bem fundamentado, alinhado com as melhores práticas internacionais e com os compromissos nacionais de transição energética.
Contudo, a distância entre o planeado e o executado permanece grande.
As metas de redução das perdas técnicas, melhoria da qualidade de serviço e diversificação da matriz energética avançaram lentamente, condicionadas por limitações orçamentais, insuficiências institucionais e, sobretudo, pela falta de um mecanismo eficaz de monitorização e prestação de contas.
A visão do PDSE — de um sistema elétrico mais fiável, interligado e ambientalmente sustentável — manteve-se no papel, sem tradução proporcional na realidade operacional.
Hoje, muitas das vulnerabilidades diagnosticadas no próprio plano continuam ativas, agravadas por uma execução parcial e desarticulada.
Oque o país precisa, portanto, não é de um novo plano, mas de nova disciplina de execução.
De uma cultura de acompanhamento rigoroso das metas, com relatórios públicos, indicadores atualizados e coordenação real entre as entidades do setor.
O PDSE deve ser revisto não quanto à sua pertinência, mas quanto à sua governança de implementação.
O futuro do setor energético cabo-verdiano passa por consolidar uma política de Estado baseada em quatro princípios:
- Planeamento de longo prazo, com cenários realistas de crescimento da procura e capacidade instalada;
- Governança integrada, com articulação clara entre as entidades públicas, o regulador e os operadores;
- Transição energética sustentável, acelerando a aposta nas fontes renováveis e no armazenamento;
- Transparência e prestação de contas, através de auditorias independentes e publicação regular de dados técnicos e financeiros.
Cabo Verde dispõe de conhecimento técnico, de parceiros estratégicos e de um capital humano qualificado que permitem transformar esta crise em oportunidade de modernização.
Mas isso exige uma liderança comprometida com o interesse público e uma cultura de prevenção em vez de reação. Se houver visão e coerência, a crise de 2025 poderá ser lembrada não como o momento da escuridão, mas como o ponto em que o país começou a consolidar um sistema energético mais robusto, sustentável e soberano.
*Jorge Lopes é engenheiro eletrotécnico, mestre em Direção Estratégica e Gestão da Inovação, e foi quadro do Ministério da Energia de Cabo Verde. Especialista em políticas de inovação e governação digital, acompanha de forma independente o setor energético e as políticas públicas nacionais.